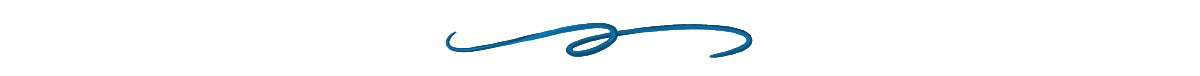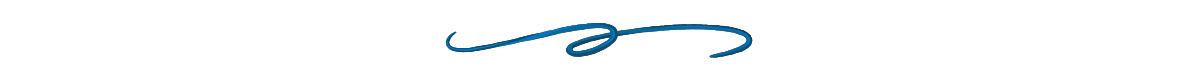#24. Ingenuidade, espanto e suspensão da descrença
Fazer e apreciar uma obra artística depende dessas três condições
MESMO QUEM NÃO FREQUENTA o evangelho e a igreja há de conhecer a passagem em que Cristo diz: “deixai vir a mim as crianças, pois o Reino de Deus pertence a elas”. Está no livro de São Lucas, capítulo 18, versículo 16.
O Filho de Deus estava perfeitamente ciente de que, finda a infância e chegada a idade madura, não é humanamente possível retornar àquela inocência da fase inicial da vida. Ele sabia.
Então, ao trazer junto a si as criancinhas de quem os marmanjos obstavam a passagem, talvez o Cristo aproveitasse a ocasião para apelar a certo estado de espírito necessário, uma disposição consciente, não só para a vida em geral como para adentrar o paraíso no pós-morte: uma ingenuidade voluntária nos adultos, já que a pureza natural se perdera com os anos e as vivências. Ele sabia.
O exemplo da criança ilustra a falta que a ingenuidade faz. E, para reduzir o universo do tema tratado aqui, essa ingenuidade faz muita falta sobretudo à produção e à contemplação artística, quaisquer artes. Para lidarmos com elas, é preciso adotar uma ingenuidade consciente ou, se usarmos um termo em inglês, uma suspension of disbelief (usualmente traduzido como suspensão da descrença; o termo funciona bem. Volto a ele adiante).
O espanto
Imagine a cena: os fogos de artifício explodem na noite de ano novo. Boquiaberta, a criança admira o espetáculo de explosões coloridas e multiformes no céu noturno. Ela sorri, encantada; ou tem medo da barulheira e assusta-se com um evento completamente diferente do que está acostumada. Imagine-se a surpresa para ela naquele instante: uma sensação da qual ela nunca se esquecerá, se for grandinha o suficiente para memorizar. Numa palavra, ela fica espantada com aquilo.
Espanto. Na literatura, a poesia é o terreno do espanto por excelência. O termo aparece num sem-número de versos, não por acaso. O espanto sempre acomete ao poeta antes de deitar a pena ao papel. Sem espanto, não há poema.
Quanto às crianças, por que elas se espantam, no sentido de admirar-se ante o inusitado e sentir o coraçãozinho a palpitar, numa emoção súbita, genuína?
Por ser ingênua, nada menos. E do espanto, pode-se afirmar, este é a ingenuidade em ação. Só ingênuos são capazes de se espantarem, num sentido positivo.
Todavia, a ingenuidade soa como defeito na fase adulta. Nosso senso comum recomenda que o adulto cultive uma providencial esperteza — se não para enganar, para não ser enganado; ou para não desperdiçar oportunidades.
Assim, sem perceber, crescemos numa sociedade na qual um benéfico espanto fica interditado, atrofiado, tanto para o mal terrificante como para o bem edificante. Esta incapacidade de espantar-se leva à insensibilidade generalizada, e na lacuna deixada pela ingenuidade faltante encaixamos o tijolo do cinismo.
De maneira que, se o espanto é a ingenuidade posta em ação, o cinismo é a insensibilidade posta em ação. O cinismo é uma disposição minúscula, opaca e medíocre, a qual não se deixa surpreender nem se comover. Tomados de cinismo, ficamos tapados enquanto nos sentimos inteligentes na superfície, por supostamente captarmos segundas intenções e coisas-por-trás em tudo que nos rodeia, sejam reais ou invenções de nossa linda cabecinha.
Digo cinismo, mas pode-se trocar por suspicácia, mordacidade, incredulidade, malícia; tudo isso junto e misturado contra toda possibilidade de virtude, apesar de sermos humanos e falhos. E, neste cadinho, a arte não foge à regra.
Bandida
Sou informado pelas redes sociais que dia 19 último (todo 19 de junho, deve ser) é o dia do cinema brasileiro. Desconheço quem instaurou a comemoração, mas se existe uma área em que o cinismo reina absoluto, é no cinema nacional. Filme brasileiro é cínico quando ri e quando chora. Principalmente quando atira.
Pois nessa mesma semana, a rede social me informa de mais uma estréia da lavra favela-movie: um filme Bandida, que conta a história de uma moça que vira, adivinhem só, bandida num morro carioca. Reserve.
No domingo anterior, resolvi assistir a uma sugestão que a Netflix dava-me com insistência: o filme O Jogo da Imitação (2014, EUA/Inglaterra), que conta uma história do pai da computação Alan Turing, e de como ele desenvolvera uma máquina que decodificava mensagens criptografadas pelos nazistas. Isso permitiu aos Aliados vencerem a guerra.
Os dois filmes são exemplos bem díspares que ilustram pelo contraste. Antes, ressalvo que sei o quanto tiros, explosões e bandidos abundam em Hollywood. Mas lá a coisa é gênero, modalidade, alternativa. Aqui, onde a produção cinematográfica é rarefeita, a temática insistente sugere algum atavismo afetivo pelo lumpesinato, uma preferência na base do seja marginal/ seja herói¹, cujas procedência e origem ideológica sabemos.
O filme estrangeiro prima pela sensibilidade e delicadeza com que trata o herói da película, Turing, embora fosse arrogante, sabichão e criminosamente homossexual à época (a lei britânica punia o homossexualismo). A história mostra tudo isso sem ferir a sensibilidade do público, sem choque gratuito e, o mais importante, sem o prazer do esculacho como substituto da admiração.
No fim, ficamos ao lado do herói Turing (belamente interpretado por Benedict Cumberbatch), e não é difícil supor que o diretor Morten Tyldum quisesse justamente isso: que, ingênuos, caíssemos na dele. Tudo bem: fica da película a poesia visual, os valores elevados; ficam a inspiração e a motivação a coisas como persistência, dedicação ao estudo, acreditar no ideal etc. etc. No fim, somos recompensados.
Bem, mas ao filme Bandida não pretendo ver. Já vi quejandos e aceitarei as ressalvas de quem se habilitar. De minha parte, não demando biografias de bandidas ou de bandidos, do morro ou do asfalto, exceto se eles se tornarem uns Alans Turings e vencerem pela boa perseverança. Todavia, não é o caso ali, aposto.
Além disso, se não temos um Alan Turing no Brasil, não significa que só nos restaram bandidos e bandidas. Pelo contrário. Um bom cineasta poderia estudar uns bons vultos que estamparam nosso dinheirinho nos anos 1980-90 e escolher a dedo uma biografia daquelas. Há produções tímidas desta natureza por aqui, embora o gênero não seja de forma alguma regra, mas nobres exceções.
Suspensão da descrença
A primeira vez que tomei conhecimento do termo suspension of disbelief foi na canção Mystic Rhythms (1985), do trio Rush:
The more we think we know about
The greater the unknown
We suspend our disbelief
And we are not alone(...)
More things that are dreamed about
Unseen and unexplained
We suspend our disbelief
And we are entertained…
Informa a Wikipedia que o termo foi cunhado pelo poeta e dramaturgo inglês Samuel Taylor Coleridge². Bom saber. Com efeito, não é uma expressão muito difundida em nosso país, como outras anglofilias de gosto duvidoso. Mas devia, porque o termo traduzido suspensão da descrença dá o mesmo efeito do original: algo como, ao estar diante da obra de arte ou do espetáculo, deixar a desconfiança do lado de fora, isto é, largar mão daquela suspicácia preliminar. Na sala de cinema, no teatro, no salão do museu deixar-se enredar, sem predisposição crítica nem analítica. Ser apenas levado e embalado, feito uma criança. E se expor e aprender e tal.
O mesmo se dá em qualquer outra fruição artística, seja ao ouvir música ou na leitura do livro. Suspender a descrença é o tipo de respeito específico que a arte demanda. Deixar a obra dizer o que pretende, até o fim. O momento da crítica — se e quando ocorrer — virá muito depois, a frio. Na hora, é “deixar-se enganar” pela arte, de mente aberta e boa vontade. Afinal, estar ali foi uma escolha, certo?
“Mas agir assim não seria infantil demais, ingênuo demais?”
Sim, exatamente. Críticas e reflexões ficam reservadas para o fim, nunca para o início e, principalmente, nunca antes do início.
E o artista?
Ingenuidade, suspensão da descrença, espanto: mesmo do ponto de vista do criador, não há arte que preste sem a tríade. Não há arte verdadeira que parta do puro cinismo, a menos que se queira negá-la ou parodiá-la. Do cinismo brota apenas o pastiche, a caricatura e o estereótipo. Para tocar as almas, no entanto, a arte brota de outra alma. Falávamos disso na edição passada³.
O artista precisa ser capaz de se espantar diante do objeto que contempla e da realidade que observa. O verdadeiro artista terá sensibilidade para deixar-se tocar por certos ângulos da realidade que o olho comum não capta, e dali extrair sua elaboração. Depois, compartilhar sua percepção com os demais — todos nós — pela arte que produziu.
Daí que, sem espanto, não há criação genuína nem arte digna do nome. Por isso as artes e espetáculos nacionais em geral não saem da sarjeta: cinismo como ponto de partida realiza apenas coisas muito pequenas e baixas, e só comunica a cínicos outros. Não há valor elevado no cinismo nem pode haver. É sentimento reles, bem como toda criação por ele motivada.
Os finalmentes
Há coisas próprias de menino e próprias de homem, diz o apóstolo São Paulo. É normal que haja na maturidade uma espécie de acomodação diante de surpresas, as quais deixam de surpreender dada a repetição e o costume — os fogos do réveillon mencionados acima, por exemplo —, de modo que o espanto ante a essas e outras coisas prosaicas se esvai com o tempo. A gente cresce, amadurece, e certas coisas perdem a graça inicial, o efeito da novidade.
Mas muitas outras coisas permanecem desconhecidas no mundo e no entorno. Coisas não notadas, ao menos não como mereciam. Há muito de espantoso ao nosso redor esperando apenas uma observação atenta.
No adulto, a ingenuidade é uma virtude voluntária, que está à mão para ser usada em momento oportuno. Quando o Cristo diz “quem não for como criança, não entrará no reino de Deus”, creio que Ele preconiza exatamente isto: a ingenuidade como um ato consciente e não como acidente ou incapacidade de discernimento, como nos pequenos.
A ingenuidade — e o espanto que dela decorre diante do sublime, terrível, assombroso, admirável etc. — é condição indispensável, tanto para quem faz como para quem aprecia a arte. Por outro lado, o cinismo é estéril. Vive de choque mas cansa, enquanto drena o gosto e o prazer. Talvez isso explique algo que ocorre em nosso quintal.
Amar amar o Chico
O ser humano tem sede de amor e sede de amar. Às vezes, um amor excêntrico, idealizado e direcionado a uma projeção encarnada numa determinada pessoa. Como se, ao encontrar o ideal almejado, a pessoa-amante finalmente pudesse despejar a enorme carga amorosa que tanto transborda em seu coração pelo ser amado.
Há pessoas assim, que amam demais. E há pessoas que recebem amor demais. Em ambas, é preciso ter a capacidade de entregar ou receber o tanto amor que beira o sufocamento.
Um exemplo famoso famoso é o do provecto sr. Chico Buarque, que acaba de completar 80 anos. Bem, eu não amo Chico Buarque, eu não odeio Chico Buarque. Que acho dele? Não sobe nem desce. Bom letrista, mau cantor. Escritor, não sei, não li.
Mas as pessoas que amam Chico Buarque não amam a pessoa real, amam a projeção, a idealização encarnada em certo homem chamado Chico Buarque.
Acho que as pessoas que amam demais sofrem do mal que outro menestrel, Ronnie Von, cantoua em priscas eras: “eu amo amar você! Puxa, como eu amo amar você!”. É isso: as pessoas não amam, elas amam amar. A sensação da entrega basta por si, toma, leva, é seu. Nem precisa recibo.
O Chico — e análogas personalidades-chico que recebem toneladas de amor de completos desconhecidos — também têm lá sua cota de responsabilidade com tanto amor a si devotados. A coisa é séria. Há uma responsabilidade em deixar-se amar, em aceitar e receber toda a catarata amorosa e simplesmente continuar existindo para receber tanto sentimento despejado.
Caso contrário, o excesso de amor represado nas pessoas que amam demais pode explodir, não sei; ou gerar alguma loucura perigosa, acho. Falo e me lembro de John Lennon, mas o texto já está grande.
Fábula: o gigante raivoso
“Era uma vez um gigante raivoso que no bosque morava. Um dia, as árvores foram queimadas, os passarinhos espantados, os bichinhos assustados. O gigante viu tudo aquilo e ficou revoltado.
Apesar de briguento, tinha razão o grandão rabugento. O bosque dele foi todo arrasado!
O tempo passou, e o gigante não viu que tinha passado: ficou lá raivosão, todo emburrado. Não viu o passarinho a piar, a plantinha a nascer, o bichinho a saltar.
O bosque renascia e o gigante não via!
Um dia, o gigante bota as botas gigantes e sai a olhar. Não tinha árvore verdinha, só broto aparecia.
Então, bem nervoso, com a botona pesada desanda a pisar: o caule quebrava, a folhinha amassava, a moita chutava:
“Brotinho não é árvore! Eu quero minha árvore!”, com raiva, gritava.
Os passarinhos, tão tristes, nem vinham cantar. Os brotinhos verdinhos não mais apareciam. O bosque que renascia agora morria.
E o gigante raivoso, rabugento e briguento, de raiva impediu ao bosque verdejar.”
Quem disse
“70% dos cidadãos votam do mesmo modo que respiram: sem saber por que nem o quê. Votam como vão à festa da Penha, — por divertimento. A Constituição é para eles uma coisa inteiramente desconhecida. Estão prontos para tudo: uma revolução ou um golpe de Estado.”
— Machado de Assis
*
“Se meu médico me dissesse que eu teria apenas mais seis minutos de vida, não ficaria me lamentando. Apenas datilografaria mais depressa.”
— Isaac Asimov
*
“A platéia só é respeitosa quando não está entendendo nada.”
— Nelson Rodrigues
Direto do almoxarifado
Links
1. “Seja marginal/ seja herói”
2. Suspension of disbelief
3. Edição passada (newsletter ed. 23)
Amiga e amigo inscrito, nessa newsletter tento entregar um conteúdo de qualidade e valor, inédito, de um tipo que não se vê na grande mídia.
Acredite, produzir um conteúdo assim demanda tempo, pesquisa e muita mão na massa.
Se você entende que este conteúdo agrega valor a você e gosta de recebê-lo gratuitamente em seu e-mail, considere fazer uma contribuição sem compromisso com este trabalho.
Segue abaixo meu código pix:
fernandolimacunha@gmail.com
Se preferir, use o QR Code:
O valor você decide livremente. Muito obrigado!