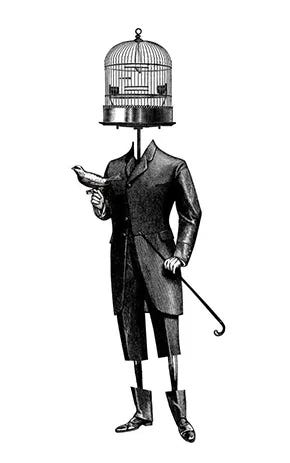#23. A insustentável leveza da nossa literatura
Por que tem faltado tanto vigor e musculatura à atual produção literária brasileira?
HÁ TEMPOS ADQUIRI O HÁBITO de ler amostras de livro na Amazon. Por essa mania tomo conhecimento dos novos autores nacionais, em especial os das grandes editoras, as quais sempre lançam simultaneamente edições impressas e digitais de seus livros.
Confiro as editoras grandes pela referência: as casas tradicionais injetam um bom dinheiro nos livros que publicam, pois acreditam neles (óbvio). Segundo consta, elas só publicam tal ou qual obra porque tem uma certeza planilhada em Excel de que o lançamento dará certo e as vendas ocorrerão a contento.
Então, se há amostra digital, leio; é regra que o início de todo livro dá o tom do que virá no restante. Faço isso para acompanhar a atual cena literária (ainda se usa a expressão?), e juro que suspendo a descrença no ato; vou cândido e ingênuo a cada novidade, na esperança de ser surpreendido positivamente, isento de qualquer cinismo.
Aí é que são elas. Da chamada cena contemporânea, quase nenhum livro brasileiro consegue me fisgar. Quase é cortesia da casa. Falo como leitor: fuço daqui e dali e quase nunca a coisa me pega, como diria um jovem tiktoker.
E daí? Poderia apenas deixar pra lá, virar as costas e fazer outra coisa. Mas a pulga insiste atrás da orelha e eu penso no problema. Intriga um bocado o fato de a presente literatura brasileira parecer chocha e desinteressante, quando, imagino, nunca se publicou tanto livro por aqui. (Às vezes acho as editoras otimistas demais para a quantidade bruta de leitores do território, mas esse é outro assunto.)
Funciona assim: sei da novidade pela rede social da editora e vou ao e-commerce do sr. Bezos em busca do trecho inicial, das primeiras páginas. Em geral, são de uns nomes conhecidos de ouvir falar, um pessoal a quem eu chamaria Acadêmicos do Jabuti, que, entra ano e sai ano, lança algum volume pela famosa editora que os abriga.
No fundo, torço pela escritora e pelo escritor brasileiro por gostar do esporte literatura, tanto que intento praticá-lo. Não sei, talvez isso ocorra por alguma brasilidade de fundo, pois na frente, se me perguntam se sou patriota, digo “não” com a serenidade de quem prova um Chicabon. Meu patriotismo acabou ali por 15 de novembro de 1889, acho; de resto, não me agradam bandeiras nacionais feitas em CorelDraw.
Bem, mas os livros. Vejo o lançamento e leio a amostra, disse. Tento ler seria mais apropriado, pois nunca me vem o estalo, a mágica, o clique mental; nunca vem aquele sentimento de “espera, que livro é esse, que autor é esse?” Não. Em geral, no terceiro parágrafo já desanimo e perco a vontade de continuar. Daí, no próximo lançamento o ciclo recomeça.
Esquemas, esquemas, esquemas
Tento uma resposta, e acho que nem de longe será a única, definitiva. Noto que o problema principal dos novos autores está na superficialidade, no artificialismo, no esquematismo. Falta carne e falta sangue, pulsação, vida nos textos, falta uma presença autoral; embora não falte drama, não, nem um pingo. Veja, não é exatamente difícil inventar uma história triste. Em poucas palavras, parte-se de certa situação e de alguém que sofra a situação. Daí vai-se desenvolvendo o enredo.
Naquelas amostras, entretanto, tudo parece apenas espertinho, esqueminhas baseados em situações “e se”. Não seria tanto problema caso o texto despertasse o interesse, acendesse alguma chama, desse ignição, explosão e partida, como num motor, compreende?
O erro, creio, é que o atual escritor brasileiro anda preocupado demais em ilustrar teses desde fora e tenta metabolizá-las do lado de dentro, de um jeito falso. Por exemplo: a moça escritora está devidamente conscientizada de um certo machismo patriarcal de que muito ouve falar, mesmo que papai a ame com todo carinho. Certo. Então, em geral saída da universidade, ela se imbui da responsabilidade de construir uma historieta que demonstre ipso facto o dito machismo patriarcal, e traz nas mãos uns PDFs do Observatório Viveres, outro do Núcleo Antirracista, mais outro do Instituto Saberes.
Então, muito consternada, ela pensa: “preciso fazer algo, preciso usar minha escrita. Minha pena é minha arma.” Pois bem: escreverá uma história que ilustre aqueles dados alarmantes, sem nuances nem concessões, quando, na realidade, haveria tantas sutilezas numa situação verossímil que, em sendo consideradas, o dito machismo patriarcal talvez nem fosse tão emblemático e reconhecível na história. O mesmo vale para qualquer outro tema carimbado nas cartilhas da ONU.
Mas veja, criar ficção a partir de teses enlatadas é erro metodológico a priori. Partir de denúncias desses observatórios e institutos do terceiro setor — de métodos suspeitíssimos, mas passo o tópico — é antes de tudo grosseira petição de princípio, uma falácia lógica: o escritor precisa dar por verídico algo muito discutível e escorregadio nas suas particularidades, e seguir por esse caminho. Para fazer dar certo, então, precisará mentir, ou seja, escamotear grosseiramente as implicações laterais do que se comprometeu em provar de antemão, para assim a coisa funcionar. Depois, basta dar entrevistas com ar preocupado, como bom moço ou boa moça que fez a sua parte.
Daí, tudo vira profecia autorrealizável: como a aceitação das grandes editoras e as premiações tem chancelado a escolha, fica muito óbvio e patente que este é o caminho a seguir. No fim, a quem querem enganar? A arte não se deixa enganar. A longo prazo, nem os leitores.
Vá lá, tenhamos empatia. Coloco-me na situação do escritor e da escritora, na primeira pessoa: tenho lá minhas dúvidas quanto à tese-modelo na hora que sento pra escrever, mas para saltar por cima delas, capricho num drama forçado de apontar dedos que, além de tudo, será meio mal escrito, pois não posso fazer concessões nem sequer tangenciar minhas próprias falhas como gente normal.
Lembremos o homem do subsolo de Dostoiévski: ele aponta muitos dedos, mas também assume ser não muito flor que se cheire. Mas aqui é diferente: para a fórmula dar certo, o narrador precisa ser a vítima primordial e monopolística, e todos os demais, culpados ou cúmplices.
Resultado, a coisa não funciona, lamento dizer. No fim, sairá tudo falso, superficial, esquemático. E também pueril e bobo.
Vida interior
Pouco importa a história que se conta, o plot da vez; mesmo nas situações mais convencionais ou aparentemente banais, escrever implica sempre em confessar, em algum nível, mesmo indireto. Confissão não dos pecados alheios apenas, mas antes de tudo os do narrador ou do narrado. Para haver confissão sincera e depois tudo o mais, porém, é preciso ter alguma vida interior. Não do personagem no papel; antes de quem escreve, digo. Vida interior implica em autoconsciência, um autoconhecimento razoavelmente assentado na alma (ou na mente, como queira).
De maneira que, ao me debruçar sobre a questão do esquematismo da literatura brasileira atual, chego à conclusão de que falta vida interior aos novéis escritores (às vezes nem tão novéis). Daí haver tanto escritor e nenhum autor, alguém que realmente tenha uma voz personalizada e marcante que se imponha e até se faça necessária. Exceções confirmam a regra.
Mas dizer vida interior soa vago, indefinível. Com efeito, não é mercadoria disponível em prateleiras e ninguém pode encomendar uma para a semana que vem. Todavia, não há jeito de o verdadeiro escritor escapar dela, porque justamente dessa tal vida interior depende a ficção que se pretenda autêntica. A interioridade é como os vasos sanguíneos do corpo: não os vemos (ainda bem), mas eles precisam existir e estar em pleno funcionamento para se viver. Por outro lado, profundidade não se afeta; interioridade fingida ofende a leitura e avilta a arte, numa espécie de estelionato intelectual.
Sem dúvida que o termo evoca alguma religiosidade de fundo, mas não só; vida interior tem a ver com o cultivo do lado de dentro, do espírito; uma introspecção sincera e entregue, sem máscaras; uma frequência regular à reflexão sob a tutela dos sábios que encontramos sobretudo nos livros. No limite, vida interior implica numa desistência das próprias vaidades, num despir-se de si mesmo: escrever como quem perdeu tudo, exceto a sinceridade. Não digo que seja fácil.
Tudo isso vem muito antes e está muito acima dessas teses de ocasião que a sociedade-civil-organizada reclama. Agora o escritor vai a favor da sociedade, e não contra ela? A sociedade determina o que fará o escritor, e este aceita ser servil a ela?
Aqui se nota como a atual produção brasileira no geral tem escrito para encafifar algo na cabeça dos outros, ou pior, para “representar” grupo x ou y, para depois encaixar-se pessoalmente numa turma bacana de representantes e representados. Claro, o “crime” compensa: publicações caprichadas, prêmios, entrevistas, fama.
Mas, representar o quê, cara pálida? Em nome de quem? Literatura de verdade deve emergir, brotar de dentro para fora. Tudo isso para que, desde fora, o leitor também olhe para dentro de si mesmo e se identifique para além das aparências. Um ciclo, como se nota. Mas não é nada hermético, esotérico.
Podemos resumir assim o busílis: a boa escrita depende de saber escrever bem, com técnica, com voz, com verdade. Algo vindo de dentro do ser, sempre e sempre. Arte na forma de texto, literatura é comunicação entre almas humanas, não entre departamentos de humanas. Denúncias e conscientizações? Melhor deixar às reportagens e documentários.
Inglês britânico x inglês americano
Fala um provinciano abusado e petulante, mas se tivesse de escolher entre o inglês britânico e o inglês americano, ficaria com o primeiro.
O inglês britânico tem certa nota aristocrática, no melhor sentido: é ouvir a pessoa média daquelas paragens, britânico há gerações, e notarmos na voz a presença de uma tradição, de uma substância. Séculos de nobreza e realeza deixam marcas (no caso, boas).
Há no tom britânico uma elevação sutil que algum despeitado chamaria esnobe, mas não se trata disso, ao contrário: justamente por saber que há uma perenidade acima de si — Deus, representado simbolicamente na coroa, pouco importa a cabeça que a sustente no momento —, dá ao linguajar britânico aquele tom ligeiramente espantado nos desvios da vida, uma contenção nas surpresas, uma ironia saborosa na alegria. Uma linguagem ciente de que nada lhe é maior do que aquilo que o abrange. Isso é bom, creio.
Ter algo que nos abranja faz-nos gente melhor e uma sociedade melhor, por sabermos o nosso tamanho. Eis o significado de humildade. Daí a voz e o tom britânico médio parecer cauteloso, contido e polido e, afinal de contas, mais agradável.
Já o inglês americano é o idioma das abreviações rudes, dos neologismos grosseiros, dos improvisos desenraizados em comparação com o britânico. O inglês americano é plebeu, mesmo entupido de dinheiro; incivilizado, mesmo no alto de torres imensas. É idioma que não tem nada de muito valoroso que o preceda e de uma liberdade oca por não ter ninguém a quem prestar contas. (Ao mr. president? Pfui.)
Na comparação com o britânico, é culturalmente raquítico, que dispensa aquilo de que mais necessita: uma substância nobre, uma realeza não circunscrita a calendários de votação.
Eu sei, eu sei. De novo, fala um provinciano abusado de certa colônia sôfrega ao sul do globo. Conheço minha situação e realidade, sei o meu mal: “Deus é um cara gozador, adora brincadeira”, canto em minha defesa. O sambinha diz tudo.
Ponto e vírgula em quatro pontos
Invenção italiana, o ponto e vírgula é relativamente jovem no plano histórico: data do século XV. Donde conclui-se que Cervantes estreou uma pontuação fresquinha em seu Dom Quixote, cheirando a tinta. Há certas cervejas mais velhas que o ponto e vírgula.
Além de útil para empilhar sentenças, a regrinha diz que o ponto e vírgula marca uma pausa maior que a vírgula, não tão pausada quanto o ponto final. Parece simples; na prática, porém, só a intuição informa quando usar o ponto e vírgula, o que significa sabermos mais seu uso correto quando mal empregado do que ao ser bem empregado;
Quem não aprecia o ponto e vírgula deve evitar o clássico A educação sentimental, de Flaubert; quem o aprecia, aproveite, que irá se esbaldar. Nele, seu Gustave não economiza o simpático ponto do emoticon piscadinha, e consta que usou todos de que dispunha e ainda pediu emprestado;
Somerset Maugham dedicou todo um conto ao ponto e vírgula: a história de uma escritora talentosa cujo maior talento era usar o ponto e vírgula com maestria. Ah, e também o marido a traía, ela sabia, e aceitava tudo numa boa. Há personalidades ponto e vírgula.
Quem disse
“O coletivismo de que morre o mundo, e de que vivem os novos aventureiros, é a teoria do ajuntamento sem unidade; é a tentativa de encontrar significado na multidão, já que não se consegue descobrir o significado de cada um; é a conspiração dos que se ignoram; a união dos que se isolam; a sociabilidade firmada nos mal-entendidos; o lugar geométrico dos equívocos.”
— Gustavo Corção
*
“A maior parte da ignorância é superável. Não sabemos porque não desejamos saber. É a nossa vontade quem decide como e sobre que assuntos devemos usar nossa inteligência. Aqueles que não encontram significação no mundo geralmente o fazem porque, por uma ou outra razão, tal ausência de significação lhes convém.”
— Aldous Huxley
*
“Aquele que só conhece seu próprio lado da questão, pouco sabe dela. As suas razões podem ser boas, ninguém tendo sido capaz de refutá-las. Contudo, se for igualmente incapaz de recusar as razões que militam do lado oposto, se não estiver em condições de saber o que são, não terá bases para preferir uma a outra.”
— John Stuart Mill
Direto do almoxarifado
Amiga e amigo inscrito, nessa newsletter tento entregar um conteúdo de qualidade e valor, inédito, de um tipo que não se vê na grande mídia.
Acredite, produzir um conteúdo assim demanda tempo, pesquisa e muita mão na massa.
Se você entende que este conteúdo agrega valor a você e gosta de recebê-lo gratuitamente em seu e-mail, considere fazer uma contribuição sem compromisso com este trabalho.
Segue abaixo meu código pix:
fernandolimacunha@gmail.com
O valor você decide livremente. Agradeço sua generosidade.